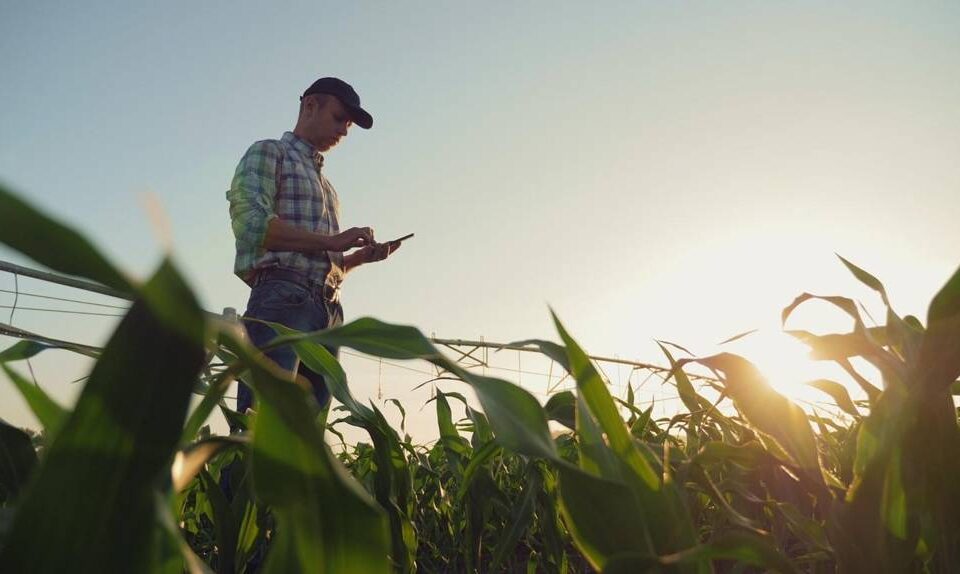Fenicafé será realizada em Araguari
janeiro 30, 2017
Mapa começa Programa de Seguro Rural de 2017
fevereiro 2, 2017Por: Heloisa Lee Burnquist. Professora da Esalq/USP e pesquisadora do Cepea (cepea@usp.br) – 30 de janeiro de 2017.
São fortes os indícios de que o ano de 2017 pode se tornar um marco de grandes mudanças na ordem político-econômica mundial. Já nas primeiras semanas do ano, o recém-empossado presidente dos Estados Unidos anunciou uma reorientação da posição de maior defensor do livre comércio, mantida há décadas pelo país, para o nacionalismo econômico. Quase simultaneamente, o presidente chinês discursou pela primeira vez no Fórum Econômico Mundial, em Davos, defendendo a globalização e ressaltando que a China deve manter suas fronteiras abertas. Trata-se, sem dúvida, de uma mudança radical de posições entre essas potências econômicas.
No Brasil e no mundo, empresários e governantes têm manifestado apreensão com a incerteza quanto à evolução dos acordos de comércio e investimento mundial, dificultando a previsibilidade para a definição de seus negócios e de suas estratégias.
A aprovação do Brexit, combinada com mudanças na orientação política dos Estados Unidos, deve desencadear ações rumo à desglobalização. O último litígio dessa natureza foi desencadeado em 1930, com a aprovação do Smoot-Hawley Tariff Act pelo congresso norte-americano, deflagrando uma verdadeira guerra comercial global. Várias décadas se passaram antes que os fluxos de bens e capital voltassem a representar porção expressiva da produção e finanças mundiais. O pico de comércio de 1914 foi recuperado somente em 1970, enquanto a escala e mobilidade de fluxos financeiros só foram recompostas na década de 1990.
Esse cenário preocupa, pois a desglobalização traz o risco da desaceleração do crescimento para o longo-prazo, aumento nas diferenças entre países ricos e pobres, maior protecionismo/menor cooperação e aumento do risco de conflitos internacionais.
Rupturas devem também atrasar a negociação de mega-acordos regionais de liberalização comercial, como a Parceria TransPacífico (TPP), que teve uma proposta final assinada em fevereiro de 2016, restando ser ratificada para se tornar efetiva. O TPP foi negociado por sete anos, como um acordo que envolve a parceria entre 12 países da costa do Pacífico – EUA, México, Austrália, Canadá, Japão, e sete outros – que compõem, de maneira agregada, 25% das exportações mundiais e 40% do PIB mundial, agregando uma população (consumidora) superior a 800 milhões de pessoas. A iniciativa teve a adesão dos Estados Unidos em 2008, que buscava expandir a influência norte-americana nos países asiáticos para fazer frente ao avanço chinês no território. A agricultura, frequentemente omitida em negociações de liberalização comercial, foi incluída no TPP. A despeito de sua abrangência e enfoque, países como o Brasil, Argentina e Rússia, que representam porção expressiva do comércio agrícola mundial não foram incluídos.
Na primeira semana de seu governo, Trump retirou os Estados Unidos do TTP. A China torna-se forte candidata a preencher o vácuo deixado.
Golpe de sorte para o Brasil? Talvez.
Acordos regionais tanto geram comércio entre os participantes como podem provocar o desvio de comércio entre estes e não participantes mais competitivos. Neste caso, o comércio entre Brasil e Ásia em mercados de produtos primários – especificamente em setores de grãos, leite, carne e açúcar – pode ser reduzido, beneficiando seus competidores como Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Dados do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) ilustram que muitos dos países envolvidos no TPP são importantes players em mercados de relevância para as exportações brasileiras – estima-se que em algo cerca de 47% do total exportado pelo país (antes da saída dos EUA) -, ainda que não sejam, necessariamente, importadores de nossos produtos.
Sem dúvida, portanto, desvios de comércio resultariam em efeitos negativos para o Brasil, ainda que de forma indireta.
Por inexplicável falta de iniciativa, o Brasil mantém-se à margem do processo de consolidação de acordos regionais, adotados como alternativa para alavancar uma maior integração ao comércio global desde a estagnação das negociações multilaterais. Com estratégias econômicas orientadas para estimular a demanda interna, a defasagem tecnológica agravada pela paralisia econômica resultante do descontrole político aumentou a distância entre o Brasil e os países “emergentes” que cunharam o “BRIC” na década passada.
A verdade é que o país está ficando cada vez mais isolado, apostando exclusivamente nas exportações de produtos básicos para atender, sobretudo, à demanda externa de países como a China. Enquanto os principais países no cenário de comércio mundial agregam mega-acordos regionais aos mais de 400 acordos de liberalização comercial regionais notificados à Organização Mundial do Comércio (OMC), o Brasil mantém-se à margem deste processo, participando de apenas 22 acordos preferenciais, que na maioria são pouco relevantes para o desenvolvimento efetivo de relações comerciais. Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), neste âmbito, o país encontra-se muito aquém de outros países da América do Sul. O Chile, por exemplo, possui preferências tarifárias com 62 países, a Colômbia tem com 60 parceiros comerciais, e o Peru, com 52 países. Os três países citados têm acordo de livre comércio tanto com os Estados Unidos, como com a União Europeia. O Brasil não tem mostrado qualquer ação efetiva neste sentido.
Qual seria o motivo?
Tem sido comum atribuir a baixa participação brasileira em acordos de livre comércio à sua vinculação ao Mercosul. No entanto, já é fácil contestar este argumento. Mesmo quando pôde atuar sozinho, como no caso da longa negociação com o México durante o Governo Lula, o país não foi bem-sucedido. Em acordos que não dependem do Mercosul, enfocando acordos de investimento, exigências sanitárias e o setor de serviços, o Brasil tem apresentado uma evolução bastante tímida, fechando acordos apenas com alguns poucos países da África.
Outra explicação para a aparente incapacidade de avançar nos acordos regionais ou bilaterais tem sido a resistência apresentada por setores industriais brasileiros pouco competitivos. Como o maior potencial exportador brasileiro concentra-se em commodities agropecuárias (por exemplo, soja, milho, açúcar, carne bovina e de frango), mercados atrativos teriam pouco interesse em estabelecer acordos de livre comércio com o Brasil, envolvendo apenas produtos agrícolas. Acordos só evoluem a partir de uma base que sustenta interesses mútuos.
Se vingar, a reorientação político-econômica nacionalista nos Estados Unidos pode respingar nos países europeus e a formalização de novos acordos comerciais torna-se ainda mais remota e deslocada para os países asiáticos. Para fazer frente à experiência acumulada por esses países que têm seu modelo de desenvolvimento econômico fundamentado na abertura ao exterior, será necessário investir na capacidade de negociar. Um primeiro passo parece ser a promoção de sintonia entre os interesses dos diferentes setores da economia – mais especificamente agricultura e indústria. A seguir, os setores produtivos – tanto a agroindústria, como a indústria – precisam exigir persistência e eficiência de nossos negociadores. No que tange à China, conforme ressaltado pelo Marcos Jank em artigo recente, “já sabe o que quer do Brasil”, precisamos cobrar dos nossos negociadores ações eficientes e estratégias pragmáticas gerando negociações com ganhos equilibrados entre as partes. Se os Estados Unidos passarem a priorizar acordos bilaterais como tem anunciado, precisamos entrar rapidamente com propostas do tipo “win-win” para que sejamos reconhecidos e respeitados pela nossa competência em expandir comércio, explorando e avançando em nossas vantagens comparativas.